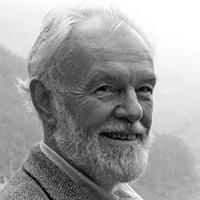Os sentidos do mundo
Leia a Introdução do livro do teórico marxista David Harvey, recém traduzido para o português
Por David Harvey
(Publicado no site A Terra é Redonda)
Ultimamente tem surgido uma porção de relatórios impressionantes sobre a China. O United States Geological Survey, que monitora esses dados, relata que a China consumiu 6,651 bilhões de toneladas de cimento entre 2011 e 2013, em contraste com os 4,405 bilhões de toneladas que os Estados Unidos utilizaram durante todo o século XX. Já despejamos muito cimento nos Estados Unidos, mas os chineses talvez o estejam despejando por toda parte e a uma velocidade inconcebível. Como e por que isso ocorre? E quais são as consequências ambientais, econômicas e sociais disso?
O presente livro foi concebido para esclarecer questões como essas. Observemos, então, o contexto desse fato bruto para em seguida considerar como poderíamos desenhar um arcabouço geral que ajude a compreender o que está ocorrendo.
A economia chinesa amargou uma grave crise em 2008. Suas indústrias exportadoras enfrentaram tempos difíceis. Milhões de trabalhadores (30 milhões, segundo algumas estimativas) foram demitidos porque a demanda de consumo nos Estados Unidos (o principal mercado para os bens chineses) havia despencado drasticamente: milhões de famílias estadunidenses perderam ou estavam ameaçadas de perder suas casas por causa de execuções hipotecárias, e essas pessoas certamente não corriam para os shopping centers a fim de adquirir bens de consumo.
O boom e a bolha imobiliários surgidos nos Estados Unidos entre 2001 e 2007 foram uma resposta à crise anterior na “bolha da internet” que eclodiu no mercado de ações em 2001. Alan Greenspan, então presidente do FED, o Banco Central estadunidense, estabeleceu taxas de juros baixas, de forma que o capital que estava sendo rapidamente retirado do mercado de ações se deslocou para o mercado imobiliário como destino preferencial até o estouro da bolha imobiliária, em 2007. A crise de 2008, fabricada principalmente nos mercados imobiliários do sudoeste (Califórnia, Arizona e Nevada) e do sul (Flórida e Geórgia) dos Estados Unidos, resultou em milhões de trabalhadores desempregados nas regiões industriais da China já no início de 2009.
O Partido Comunista Chinês sabia que era preciso levar todos aqueles trabalhadores desempregados de volta ao trabalho ou encarar o risco de um descontentamento social de proporções gigantescas. Ao fim de 2009, um detalhado estudo realizado em conjunto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimava que a perda total de postos de trabalho na China em decorrência da crise chegava a três milhões (em comparação com sete milhões nos Estados Unidos). De alguma maneira, o Partido Comunista Chinês conseguiu criar cerca de 27 milhões de empregos em um ano – um feito fenomenal, senão inédito.
Afinal, o que fizeram os chineses? E como fizeram? Eles articularam uma onda massiva de investimentos em infraestruturas físicas, concebidas em parte para integrar geograficamente a economia nacional por meio do estabelecimento de elos entre as vibrantes zonas industriais da Costa Leste do país e o interior, majoritariamente subdesenvolvido, bem como para melhorar a conexão entre os mercados industriais e de consumo do norte e do sul, até então bastante isolados entre si. A isso somou-se um vasto programa de urbanização forçada, marcado pela construção de cidades inteiramente novas, além da expansão e da reconstrução daquelas já desenvolvidas.
Essa resposta a condições de crise econômica não era novidade. Napoleão III trouxe Haussmann a Paris em 1852 para recuperar as taxas de emprego por meio da reconstrução da cidade depois da crise econômica e do movimento revolucionário de 1848. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa após 1945, quando mobilizaram boa parte de sua produtividade ampliada e do dinheiro excedente para construir os subúrbios e as regiões metropolitanas (à moda de Robert Moses) de todas as principais cidades, ao mesmo tempo que integravam o sul e o oeste do país à economia nacional por meio da construção de seu sistema interestadual de autoestradas.
O objetivo, em ambos os casos, era criar uma situação de relativo pleno emprego para excedentes de capital e trabalho, assegurando, assim, a estabilidade social. Os chineses, após 2008, fizeram a mesma coisa, mas em uma proporção infinitamente maior, como indicam os dados sobre consumo de cimento. Essa mudança de proporções já havia sido vista nos exemplos citados: Robert Moses trabalhou a partir de uma escala muito maior, a da região metropolitana, que a contemplada pelo barão Haussmann, que havia se concentrado apenas na capital francesa.
Depois de 2008, ao menos um quarto do produto interno bruto (PIB) chinês derivava exclusivamente da construção imobiliária, e, se incluirmos todas as infraestruturas físicas (como linhas ferroviárias de alta velocidade, rodovias, barragens e projetos hídricos, novos aeroportos e terminais de contêineres etc.), cerca de metade do PIB chinês e quase todo o seu crescimento (que até pouco tempo beirava os 10%) podem ser atribuídos ao investimento em construções. Foi assim que a China saiu da recessão – daí todo aquele concreto derramado.
A repercussão mundial das iniciativas chinesas foi impressionante. A China consumiu cerca de 60% do cobre do mundo e mais da metade da produção global de cimento e de minério de ferro depois de 2008. A aceleração na demanda por matérias-primas fez com que todos os países fornecedores de minérios, petróleo e produtos agrícolas (madeira, soja, couro, algodão etc.) rapidamente superassem os efeitos da crise de 2007-2008 e experimentassem um crescimento acelerado ( Austrália, Chile, Brasil, Argentina, Equador…).
A Alemanha, que fornecia aos chineses máquinas-ferramenta de alta qualidade, também prosperou (ao contrário da França). As tentativas de resolução de crises mudam tão rápido quanto as tendências de crise, daí a volatilidade da geografia dos desenvolvimentos desiguais. Contudo, não há dúvida de que a China, com a massividade de sua urbanização e de seus investimentos no meio ambiente construído, acabou assumindo um papel de liderança no resgate do capitalismo global do desastre após 2008.
Como os chineses conseguiram fazer isso? A resposta básica é simples: eles recorreram a financiamento via dívida. O Comitê Central do Partido Comunista ordenou que os bancos concedessem empréstimos independentemente dos riscos. Os municípios, bem como as administrações regionais e locais, foram orientados a maximizar suas iniciativas de desenvolvimento, ao passo que foram afrouxados os termos dos empréstimos tanto para investidores quanto para consumidores poderem comprar imóveis para moradia ou investimento. O resultado disso foi o espetacular crescimento da dívida chinesa: ela praticamente dobrou desde 2008.
A proporção dívida/PIB da China hoje está entre as maiores do mundo. Diferentemente do caso da Grécia, porém, a dívida é expressa em renmimbis, não em dólares ou euros. O Banco Central chinês conta com reservas estrangeiras suficientes para cobrir a dívida se for necessário e tem autonomia para imprimir seu próprio dinheiro se assim o quiser. Os chineses abraçaram a (surpreendente) ideia de Ronald Reagan de que déficits e dívidas não importam. Em 2014, entretanto, boa parte dos municípios estavam quebrados, havia surgido um sistema bancário sombra para disfarçar a concessão excessiva de empréstimos bancários a projetos não rentáveis, e o mercado imobiliário havia se tornado um verdadeiro cassino de volatilidade especulativa. Ameaças de desvalorização de valores imobiliários e de capital sobreacumulado no meio ambiente construído começaram a se materializar em 2012 e chegaram ao auge em 2015.
Em suma, a China passou por um problema previsível de sobreinvestimento no meio ambiente construído (como havia ocorrido com Haussmann em Paris, em 1867, e com Robert Moses em Nova York, entre o fim dos anos 1960 e a crise fiscal de 1975). A imensa onda de investimento em capital fixo deveria ter elevado a produtividade e a eficiência no espaço da economia chinesa como um todo, como ocorreu no caso do sistema interestadual de autoestradas nos Estados Unidos durante os anos 1960. Investir metade do crescimento do PIB em capital fixo que gera taxas declinantes de crescimento não é uma boa ideia. Reverteram-se, assim, os efeitos mundiais positivos do crescimento da China: à medida que o crescimento chinês desacelerava, os preços das mercadorias passavam a cair, levando as economias de países como Brasil, Chile, Equador e Austrália a uma espiral decrescente.
De que forma, então, os chineses propõem enfrentar o dilema do que fazer com seu capital excedente diante da sobreacumulação no meio ambiente construído e de um endividamento crescente? As respostas são tão chocantes quanto os dados sobre o consumo de cimento. Para começar, eles planejam construir uma única cidade para abrigar 130 milhões de pessoas (quantidade equivalente às populações somadas do Reino Unido e da França). Centrada em Pequim e conectada por redes de comunicação e transporte de alta velocidade (que vão “anular o espaço pelo tempo”, como disse Marx certa vez*) em um território menor que o do estado de Kentucky, esse projeto financiado via dívida foi elaborado para absorver excedentes de capital e de trabalho por bastante tempo. A quantidade de cimento a ser despejado para isso é imprevisível, mas certamente será imensa.
Versões menores de projetos desse tipo podem ser encontradas em toda parte, não apenas na China. Um exemplo óbvio é a recente urbanização dos estados do Golfo. A Turquia planeja converter Istambul em uma cidade de 45 milhões de pessoas (a população atual é de cerca de 18 milhões) e deu início a um enorme programa de urbanização na extremidade norte do Bósforo. Já estão em construção um novo aeroporto e uma nova ponte atravessando o estreito. Diferentemente da China, no entanto, a Turquia não pode fazer isso se endividando em sua própria moeda, e os mercados internacionais de títulos de dívida ficam ansiosos quanto aos riscos – grandes chances, portanto, de esse projeto em particular ser interrompido.
Em quase toda grande cidade no mundo evidenciam-se booms de construção, com aluguéis e preços e imobiliários cada vez mais elevados. Certamente se vive algo assim neste momento na cidade de Nova York. Os espanhóis passaram por um processo vigoroso semelhante antes de tudo vir abaixo em 2008. E, quando se dá o colapso, ele revela muito sobre o desperdício e a tolice dos esquemas de investimento que acabam sendo abandonados. Em Ciudad Real, logo ao sul de Madri, foi construído um aeroporto inteiramente novo ao custo de pelo menos 1 bilhão de euros, mas no fim das contas não vieram aviões e a empreitada aeroportuária foi à falência. Quando o aeroporto foi a leilão, em 2015, o lance mais alto oferecido foi de 10 mil euros.
Para os chineses, contudo, não basta dobrar a aposta na construção de cidades. Eles também miram além de suas fronteiras à procura de formas de absorver seus excedentes de capital e trabalho. Há um projeto de reconstruir a chamada “Rota da Seda”, que na Idade Média ligava a China à Europa ocidental via Ásia Central. “A iniciativa de se criar uma versão moderna da antiga rota comercial surgiu como a marca registrada das relações exteriores do governo Xi Jinping”, escreveram Charles Clover e Lucy Hornby no Financial Times (em 12 de outubro de 2015).
A rede ferroviária se estenderia da Costa Leste da China, passando pela Mongólia interior e exterior e pelos países asiáticos centrais, até Teerã e Istambul, de onde ela se espalharia pela Europa, além de bifurcar para Moscou. Já é possível prever que mercadorias chinesas cheguem à Europa por essa rota em quatro dias, em vez dos sete dias de viagem via transporte marítimo. Essa conjunção de custos mais baixos e tempos mais curtos na Rota da Seda transformará uma área relativamente vazia na Ásia Central em uma fileira de metrópoles florescentes. Isso já começou a ocorrer. Ao explorar a lógica por trás do projeto chinês, Clover e Hornby assinalaram a premente necessidade de se assimilarem os vastos excedentes de capital e de insumos como cimento e aço na China. Os chineses, que absorveram e criaram uma imensa massa de capital excedente ao longo dos últimos trinta anos, agora buscam desesperadamente aquilo que denomino “ajuste espacial”* (ver capítulo 2) para lidar com esses problemas.
Esse não é o único projeto global de infraestrutura que interessa aos chineses. Foi lançada no ano 2000 a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), um ambicioso programa de construção de infraestruturas de transporte para a circulação de capital e mercadorias ao longo de doze países sul-americanos. As ligações transcontinentais atravessam dez polos de crescimento; os projetos mais audaciosos conectam a Costa Oeste (Peru e Equador) à Costa Leste (Brasil).
Os países latino-americanos, no entanto, não têm os recursos para financiar essa iniciativa. É aqui que entra a China, que está especialmente interessada em abrir o Brasil a seu comércio sem os demorados desvios das rotas marítimas. Em 2012, eles assinaram um acordo com o Peru para dar início a uma rota sobre os Andes em direção ao Brasil. Os chineses também pretendem financiar um novo canal através da Nicarágua para competir com o do Panamá. Na África, os chineses já trabalham a todo vapor (empregando sua própria mão de obra e capital) na integração dos sistemas de transporte do Leste da África, com planos de construir ferrovias transcontinentais de uma costa à outra.
Relato essas histórias para ilustrar como a geografia mundial foi e está constantemente sendo feita, refeita e por vezes até destruída com a finalidade de absorver excedentes de capital que se acumulam com rapidez. A resposta simples a quem me pergunta por que isso ocorre é: porque é o que a reprodução do capital exige. Isso prepara o terreno para fazermos uma avaliação crítica das possíveis consequências sociais, políticas e ambientais desses processos e levanta a questão: será que podemos nos dar ao luxo de continuar trilhando esse caminho ou precisamos trabalhar para conter ou abolir o impulso à acumulação infindável de capital que está em sua raiz? Esse é o tema que conecta os capítulos aparentemente díspares deste livro.
É evidente que há em curso uma destruição criativa do meio ambiente geográfico do mundo – testemunhamos esse processo à nossa volta, lemos sobre ele na imprensa e o acompanhamos no noticiário todos os dias. Cidades como Detroit florescem por certo tempo e depois entram em colapso à medida que outras cidades deslancham. Calotas de gelo derretem e florestas minguam. E a ideia de que precisamos criar novos arcabouços teóricos para compreender como e por que “as coisas ocorrem” da maneira que ocorrem é mais que um pouco revolucionária.
Os economistas, por exemplo, costumam reconstruir suas teorias como se a geografia fosse o terreno fixo e imutável sobre o qual as forças econômicas se movimentam. O que poderia ser mais sólido que cordilheiras como os Himalaias, os Andes ou os Alpes, ou mais fixo que a forma dos continentes e as zonas climáticas que circundam a Terra? Recentemente, analistas respeitados como Jeffrey Sachs, em O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte anos (Companhia das Letras), e Jared Diamond, em Armas, germes e aço: os destinos das sociedades humanas (Record), sugeriram que a geografia, compreendida como ambiente físico fixo e imutável, equivale a destino.
Boa parte das discrepâncias na distribuição de riqueza entre as nações, assinala Sachs, tem correlação com a distância do equador e com o acesso a águas navegáveis. Outros, como Daron Acemoglu e James Robinson, em Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza (Elsevier), contestam tal visão. A geografia, dizem eles, não tem nada a ver com a questão: o que importa é o arcabouço institucional construído histórica e culturalmente. Um lado diz que a Europa prosperou e tornou-se o berço do capitalismo de livre mercado por causa de seu regime pluvial, sua faixa litorânea recortada e sua diversidade ecológica, ao passo que a China ficou para trás por causa de sua faixa litorânea uniforme, característica que inibia a fácil navegação, e de seu regime hidrológico, que exigia uma administração estatal centralizada e burocrática, hostil aos livres mercados e à iniciativa individual.
O outro lado diz que as inovações institucionais que reforçavam a propriedade privada e uma estrutura fragmentária de poderes estatais regionais emergiram talvez por acidente na Europa e impuseram um imperialismo extrativista sobre regiões densamente populosas do mundo (como a Índia e a China), que até recentemente havia contido as economias desses países, em contraste com a abertura do colonialismo de povoamento nas Américas e na Oceania, que teria estimulado o crescimento econômico de livre mercado. Histórias cativantes da humanidade foram elaboradas a partir de temas análogos: lembremos do monumental Um estudo da história (UnB), de Arnold Toynbee, em que desafios ambientais e respostas humanas estão na raiz das transformações históricas, ou da impressionante popularidade do já citado Armas, germes e aço, de Diamond, segundo o qual o ambiente determina tudo.
O que sugiro nos ensaios aqui reunidos vai na contramão de ambas essas tradições, a começar porque as duas estão simplesmente equivocadas. Não apenas porque erram nos detalhes (determinar a faixa costeira da China como uniforme ou o litoral da Europa como recortado depende muito da escala do mapa consultado), mas porque sua definição do que é ou não é geográfico não faz o menor sentido: depende de uma separação cartesiana artificial entre natureza e cultura, ao passo que na prática é impossível discernir onde termina uma e começa a outra. É um erro fatal impor dicotomia onde não há. A geografia exprime a unidade entre cultura e natureza e não é produto de alguma interação causal com feedback, como tantas vezes é representada. Essa ficção de uma dualidade produz todo tipo de desastre político e social.
Como a história recente da China nos mostra, a geografia do mundo não é fixa: ela está em constante transformação. Mudanças na duração e no custo dos transportes, por exemplo, perpetuamente redefinem os espaços relativos da economia global. O escoamento de riquezas do Oriente ao Ocidente a partir do século XVIII não podia ter ocorrido sem as novas tecnologias de transporte e o domínio militar que alteraram as coordenadas espaço-tempo da economia global (particularmente com o advento das ferrovias e das embarcações a vapor). É o espaço relativo – não o absoluto – que importa. Aníbal penou para atravessar os Alpes com seus elefantes, mas a construção do túnel Simplon facilitou imensamente o movimento de mercadorias e pessoas entre o norte da Itália e boa parte da Europa.
Nestes ensaios, procuro encontrar um arcabouço teórico para compreender os processos que moldam e remoldam nossa geografia e as consequências deles para a vida humana e para o meio ambiente do planeta Terra. Digo “arcabouço teórico” em vez de uma teoria específica e rigidamente estruturada, pois a geografia está em constante transformação, não apenas porque os humanos são agentes ativos na criação de ambientes propícios a sustentar a continuidade de seus modos de produção (tal como o capitalismo), mas porque há transformações simultâneas nos ecossistemas mundiais ocorrendo sob outras forças.
Algumas delas (nem todas) são consequências involuntárias de ações humanas: fenômenos como mudança climática, elevação do nível do mar, formação de buracos na camada de ozônio, degradação do ar e da água, lixo marinho e declínio da população de peixes, extinção de espécies e afins. Novos vírus e agentes patogênicos surgem (HIV/aids, ebola, vírus do Nilo ocidental), enquanto velhos agentes patogênicos ou são eliminados (varíola), ou se mostram extremamente resistentes às tentativas de controle (malária). O mundo natural que habitamos também está em constante transformação, à medida que o movimento das placas tectônicas cospe lava vulcânica e provoca terremotos e tsunâmis, e manchas solares afetam o planeta Terra de diversas formas.
A reprodução de nosso meio ambiente geográfico ocorre de uma imensidão de formas e por todo motivo. Os bulevares de Haussmann, em Paris, foram parcialmente concebidos como instalações militares designadas para controle militar e social de uma população urbana tradicionalmente insubordinada, da mesma maneira que a atual onda de construção de barragens na Turquia é pensada principalmente para destruir, por meio de alagamento, a base agrária do movimento autônomo dos curdos, atravessando o sudeste da Anatólia com uma série de fossos a fim de inibir o movimento das guerrilhas insurgentes em luta pela independência curda.
O fato de que tanto a construção dos bulevares quanto a das barragens absorvam capital e mão de obra excedente parece completamente fortuito. Percepções e costumes culturais são constantemente embutidos na paisagem à medida que a própria paisagem se converte em artefatos mnemônicos (tal como Sacré-Coeur, em Paris, ou uma montanha como Mont Blanc) que assinalam identidades e significados sociais e coletivos. As cidades e as aldeias que preenchem as colinas da Toscana contrastam com as colinas vazias, tidas como espaços sagrados e intocáveis, da Coreia.
Atulhar com características tão diversas uma única teoria abrangente é simplesmente impossível, mas isso não significa que a produção da geografia esteja além de todo entendimento humano. É por isso que falo em “arcabouços teóricos” para compreender a produção de novas geografias, as dinâmicas da urbanização e dos desenvolvimentos geográficos desiguais (e por que alguns lugares prosperam, ao passo que outros decaem) e as consequências econômicas, sociopolíticas e ambientais para a vida no planeta Terra em geral e para a vida cotidiana no mosaico de bairros, cidades e regiões em que o mundo se divide.
Criar tais arcabouços teóricos exige que exploremos filosofias de investigação baseadas em processos e abracemos metodologias mais dialéticas em que as dualidades cartesianas típicas (como aquela entre natureza e cultura) se dissolvam em um único fluxo de destruição criativa histórica e geográfica. Embora isso possa parecer, à primeira vista, difícil de apreender, é possível localizar acontecimentos e processos para melhor intuir como navegar mares perigosos e desbravar territórios desconhecidos. Não há nada, é claro, que garanta que o arcabouço teórico prevenirá naufrágios, nos impedirá de atolar em areias movediças, de empacar ou, ainda, evitará que nos desencorajemos a ponto de simplesmente desistirmos. Qualquer pessoa que se debruça sobre o atual emaranhado de relações e interações no Oriente Médio certamente entenderá o que quero dizer.
Os mapas cognitivos fornecem alguns eixos e pontos de apoio a partir dos quais podemos investigar como tais confusões acontecem e talvez algumas indicações de como escapar dos impasses com que nos deparamos. Essa é uma afirmação ousada; porém, nestes tempos difíceis, é preciso certa ousadia e coragem em nossas convicções para chegarmos a qualquer lugar. E devemos fazê-lo com a certeza de que cometeremos erros.
Aprender, nessa instância, significa estender e aprofundar os mapas cognitivos que carregamos em mente. Esses mapas nunca estão completos e, ainda assim, passam por constantes transformações, ultimamente, a taxas cada vez mais rápidas. Os mapas cognitivos, compilados ao longo de cerca de quarenta anos trabalhando, refletindo e dialogando, são incompletos. Talvez eles forneçam, contudo, fundamento para um entendimento crítico dos sentidos da complicada geografia em que vivemos e existimos.
Isso levanta questões sobre como serão os sentidos de nosso mundo. Queremos viver em uma cidade de 130 milhões de pessoas? Despejar cimento por toda parte a fim de impedir que o capital entre em crise parece ser algo razoável? A visão daquela nova cidade chinesa não é atraente para mim por uma série de razões – sociais, ambientais, estéticas, humanísticas e políticas. Manter qualquer noção de valor pessoal ou coletivo, dignidade e sentido em face de tal monstrengo desenvolvimentista parece uma missão fadada ao fracasso, geradora das mais profundas alienações. Não consigo imaginar que muitos de nós desejariam, promoveriam ou conceberiam algo assim, embora, evidentemente, haja futurologistas que jogam mais lenha na fogueira dessas visões utópicas e um grande número de jornalistas sérios que estão convencidos ou cativados o bastante para escrever sobre essas iniciativas, bem como operadores financeiros na gestão de excedentes de capital que estão prontos e desesperados para mobilizá-los e concretizar essas visões.
Recentemente concluí, em 17 contradições e o fim do capitalismo (Boitempo), que, nestes nossos tempos, é não apenas lógico, como imperativo, considerar seriamente a cambiante geografia do mundo a partir de uma perspectiva crítica anticapitalista. Se sustentar e reproduzir o capital como uma forma dominante de economia política exige, como parece ser o caso, despejar cimento por toda parte a uma velocidade cada vez maior, então certamente é chegada a hora de ao menos questionar, senão rejeitar, o sistema que produz tais excessos. Ou isso, ou os apologistas do capitalismo contemporâneo precisam mostrar que é possível garantir a reprodução do capital por meios menos violentos e menos destrutivos. Aguardo ansiosamente por esse debate.
Referência
David Harvey. Os sentidos do mundo. Tradução: Artur Renzo. São Paulo, Boitempo, 2020.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.